Comemora-se neste ano o centenário da morte de Euclides da Cunha (Cantagalo, 20 de janeiro de 1866 - Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1909). Em apenas 43 anos de existência, ele nos propôs algumas questões formuladas a partir de sua capacidade de observação dos caminhos por onde transitou, no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo e até na Amazônia. Muitas dessas observações são quase que profecias, foram sinais de alerta para o modo desastrado como o país lidava com o próprio povo, com a própria cultura, a própria história.
Em Os sertões Euclides revelou às elites dirigentes do Sudeste a existência de outro país, desconhecido, a respeito do qual elas quase nada sabiam. Mesmo aqueles intelectuais mobilizados por princípios de justiça e igualdade, que davam sustentação ideológica aos movimentos que culminaram na proclamação da República, conheciam muito pouco do Brasil que mostrou sua cara no episódio conhecido como Guerra de Canudos, ocorrido entre 1896 e 1897, no sertão da Bahia.
Esse Brasil desconhecido mudou-se em parte para as grandes cidades, surfando nas ondas de migrações internas. São Paulo e Rio talvez sejam as cidades com o maior número de nordestinos do país, embora não estejam no Nordeste. A Asa Branca, de Luiz Gonzaga, é um produto cultural do Rio de Janeiro e isto não é por acaso. Foi o mesmo caminho seguido pelos ex-escravos e seus descendentes, que, depois do fim da escravidão, mudaram-se do sul de Minas para o Rio de Janeiro. A favela de Mangueira, por exemplo, formou-se a partir desse surto migratório. Ela está colocada entre os bairros industriais de Vila Isabel e São Cristóvão, onde essa gente encontrava emprego e criava riquezas com o seu trabalho.
Enquanto se dirigia a Canudos, como repórter do jornal O Estado de S. Paulo, Euclides, com 31 anos, era um republicano histórico, que recusava, no entanto, tirar partido disto em seu próprio benefício. Estava afeito às crenças positivistas que fizeram a República, mas tinha algumas dúvidas. Via os sertanejos como raça inferior, visão ideológica comum entre as elites esclarecidas do Sudeste, formadas como se fossem europeias. Essas dúvidas estão claras em um comentário presente em suas anotações a caminho de Canudos, em que, com espanto, define aquele povo como “incompreensível e bárbaro inimigo”.
Voltando a Os sertões, nesse livro Euclides nos conta, por exemplo, que no dia 14 de julho de 1897, data simbólica da Revolução Francesa, tropas do exército brasileiro, que assediavam o arraial dos sertanejos entendidos como rebeldes à República, promoveram uma homenagem àquele grande acontecimento que marcou o início de uma nova era: fizeram salva de 21 tiros de canhão. Estes tiros não eram de festim, mas verdadeiros, de acordo com Euclides da Cunha, que diz ainda o seguinte:
“Os matutos foram varridos cedo – surpreendidos, saltando estonteadamente das redes e dos catres miseráveis –, porque havia pouco mais de cem anos um grupo de sonhadores falara nos direitos do homem e se batera pela utopia maravilhosa da fraternidade humana ...” (Euclides da Cunha, [1902] 2002. Os sertões. Rio de Janeiro, Record, p.431)
Esse bombardeio do arraial sertanejo foi feito pelo exército brasileiro, mas seria uma banalização do acontecimento atribuir sua responsabilidade somente a essa instituição. Trata-se de uma ação resultante da atuação do conjunto de forças políticas que dominavam o país naqueles primeiros momentos da República.
A ironia com que ele denuncia a contradição implícita na reverência à “utopia maravilhosa da fraternidade humana” bombardeando seres humanos é como se fosse um ato de rebeldia às crenças disseminadas no Sudeste que se acreditava europeizado. Por maior que tenha sido a importância da Revolução Francesa para a história da humanidade, ela não poderia justificar ato como aquele. Não era, porém, o Iluminismo que estava ali, não era a revolução que derrubou a aristocracia. Aquela atitude era apenas o submetimento de uma realidade brasileira à crença de que os europeus e sua civilização eram superiores, eles, sim, eram importantes.
Curioso é que essa submissão ao conceito europeu de civilização é uma criação principalmente brasileira, é uma autodepreciação. Ao contrário desta perspectiva, o tradutor alemão de Os sertões, Berthold Zilly, entusiasmado pelo livro e pelo país que ele revela, considera-o uma construção genial e o mito fundador do Brasil atual, como se ali estivessem contradições de nossa sociedade de hoje.
Neste sábado, 25 de julho, tem início em Nova Friburgo a Primeira Comuniseg (Conferência Municipal de Segurança Pública). Trata-se de encontro da maior importância, que terá a presença de juristas, policiais civis e militares, jornalistas, sociólogos, antropólogos, todos de saber e experiência reconhecidos. Sem dúvida, é um passo na direção do enfrentamento da violência urbana, que se espalha por todo o país. Mas somente as reflexões como as que serão feitas na Comuniseg não serão suficientes. É preciso que se opere uma grande mudança da disposição coletiva de agir da sociedade com relação às populações marginalizadas. Atitude diferente daquela que se realizou naquele bombardeio descrito por Euclides da Cunha, que poderia ser resumida na frase que anda na alma de muita gente quando discute o problema da violência e que nada mais é do que a introjeção das mais banais histórias de cowboys: fogo neles!
(*) Jornalista – mauriciosiaines@gmail.com
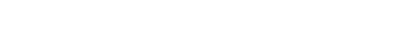
Deixe o seu comentário