A linguagem é uma pele: fricciono minha linguagem contra o outro. Como se eu tivesse palavras à guisa de dedos, ou dedos na ponta de minhas palavras”
Tente pensar em alguma coisa que você não consiga traduzir em linguagem verbal. Conseguiu? Difícil, né?!
A língua materna que adquirimos nos primeiros anos de vida, seu vocabulário e sua estrutura não chegam aos nossos ouvidos a partir de dicionários, gramáticas ou momentos formais de aprendizagem. Ela nos chega através de enunciações concretas que ouvimos e reproduzimos, ou seja, ela vincula intimamente nossa experiência linguística à nossa consciência. Linguagem verbal e pensamento estão sempre enamorados.
Agora, pense no significado da palavra “governante”. Aquele que é legalmente instituído para governar um estado. E o que vem a sua cabeça quando pensa na palavra “governanta”? Mulher que orienta empregados numa casa. Fizemos uma oposição de gênero ou de lugares sociais?
É categorizado nos manuais de gramática que mulher é o feminino de homem. Porém, o feminino de marido também é mulher. A palavra marido refere-se a um papel social e a palavra mulher engloba todo o ser humano do sexo feminino. São as palavras estabelecendo relações de empoderamento pelo casamento.
A flexão de gênero da língua portuguesa é feita de maneira muito incoerente e confusa. Isso porque associa o gênero ao sexo. Ora, se o gênero abrange todos os nomes da língua portuguesa, por que fazê-lo, visto que objetos possuem gênero, mas não possuem sexo?
Pulga atrás da sua orelha? Sei...
Apropriar-se de uma linguagem e seu modo de nomear o mundo traz consigo padronizações difundidas no cotidiano, subjetividade e ideologia, situações, posições sociais e juízos de valor.
Aprender a falar é moldar a consciência e o pensamento. A língua integra-se à vida através de enunciados que refletem e são refletidos em padrões de comportamento e contextos sócio-históricos. É uma forma sutil de difusão da discriminação de gênero. Sua organização e estruturação estão cheias de exemplos. Em Latim, todos os nomes eram declináveis, ou seja, recebiam desinências a depender de sua função na frase. O paradigma das declinações se dava, em sua maioria, separando palavras masculinas, femininas e neutras. Estabelecia-se essa ordem de importância: primeiro os homens, depois as mulheres e, por fim, as coisas. E, enquadravam-se nos neutros (ou seja, nas coisas) pessoas sem personalidade jurídica — escravos e prostitutas. Eis a língua discriminando e desempoderando em sutilezas de cunho gramatical.
Em língua portuguesa fazemos a flexão de gênero, principalmente, com a oposição o/a. De forma que o uso do masculino é generalizador e o feminino só abrange as mulheres. Quando dizemos Os brasileiros têm lutado contra as formas estabelecidas de discriminação, generalizamos o sujeito da frase de forma que ele abranja homens e mulheres, porém a palavra homens é masculina e traz consigo essa marca de gênero, que associada ao sexo, privilegia um em detrimento do outro. Mais um uso gramatical se fazendo com clara intenção social e política.
Também as artes que utilizam a língua como instrumento, como teatro e literatura, são sistemas complexos que refletem de modo imediato e preciso os padrões estabelecidos. A literatura, por sua vez, como se perpetua no tempo, dado seu registro em livros e ensino nas escolas, reproduz com muita eficácia padrões e estereótipos e é, em sua maioria, um registro da ótica masculina.
Na Roma Antiga, existia somente uma mulher poeta. Todos os demais eram homens. No teatro, somente homens interpretavam. Eles escreviam e interpretavam as personagens, fossem homens ou mulheres. A identificação por parte do público se fazia através de máscaras, geralmente de madeira ou couro, que cobriam inteiramente o rosto do ator.
Nos primeiros textos registrados ainda em galego-português — as cantigas trovadorescas —, o eu-lírico também se manifesta com homens fazendo a voz feminina. As cantigas de amor denotam servidão amorosa e padrões de vassalagem, a figura da mulher é idealizada e fragilizada. Nas cantigas de amigo, cujos autores eram homens e o eu-poético feminino, a mulher sofre pela perda do amigo (namorado ou amante) que não mais a cortejará. Este é apenas o começo de uma vasta literatura cuja temática se dá em torno da fragilidade feminina e do mocinho que salva a mocinha, a leva para seu castelo, evitando assim, seu sofrimento. Esta posta a imagem da mulher fragmentada e romantizada que, para ser feliz, precisa de um homem — sua outra metade. Coisa que, aliás, se manifesta na linguagem bíblica, desde sua criação a partir da costela de Adão.
Mas, isso é conversa pra outro bate-papo...
Os meios de comunicação e linguagem mantêm relação estreita com a socialização de gênero, pois viabilizam um processo de aprendizagem de papéis sociais vinculados a características estereotipadas femininas e masculinas. Réplicas de diálogos do cotidiano, caracterização de personagens e familiaridade com padrões de comportamento se estabelecem nas relações de reciprocidade entre linguagem e ideologia e se fixam culturalmente muito baseados em processos de elaboração discursiva.
Através da linguagem verbal se impõe toda uma racionalidade, que vai se fixando no corpo social e se desloca através de suas veias alimentando todos os membros desse corpo. Por isso, se torna tão dolorido romper com esses padrões. Desnudar-se de preconceitos começa por retirar-lhe a pele. Dói nas mulheres que se percebem discriminadas, dói nas mulheres que percebem somente nuances, dói nas mulheres que ainda não percebem por que sofrem, mas sentem as suas dores. Dói nos homens que se sentem insultados pelo libertar feminino, em pequenas libertações cotidianamente. Não é fácil quebrar paradigmas e desfazer estruturas simbólicas que se reafirmaram por séculos.
Mas é possível fazê-lo e é possível fazê-lo através da linguagem. Substituindo frases, jargões, analisando as artes e as literaturas, recolocando-as em seu espaço-tempo. Recategorizando-as.
Observando-nos e fazendo novo uso das palavras.
Eu gosto mesmo é da poesia de Manoel de Barros, registrada em escrita mansa e densa, não gosto da palavra acostumada. Repito: não gosto da palavra acostumada.
Um transgressor, fazedor de novas realidades, esse poeta! Sua apropriação da palavra é uma antítese às tradições: a tarefa mais lídima da poesia é equivocar o sentido das palavras, por não querer saber como as coisas se comportam, por querer inventar um comportamento para as coisas.
Repudiar qualquer discriminação de gênero é também ser poeta, é equivocar o sentido das palavras, desvirtuar o comportamento semântico, desviar suas finalidades.
O uso não sexista da linguagem, sob a lupa do poeta, nas palavras livres de gramática, sem qualquer posição ou oposição, é descomportamento linguístico.
E pode ser, para nós, um descomportamento das práticas de discriminação de gênero — um fomento a uma linguagem inclusiva fazedora de uma nova estilística social.
Roland Barthes, "Fragmentos de um discurso amoroso"
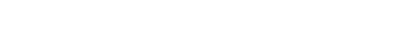

Deixe o seu comentário