Colunas
A urbs e o matuto
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
Uma crônica do final do século XIX ilustra bem a divisão entre o homem urbano e o homem rural em Nova Friburgo. Saíam da igreja Matriz, após a celebração de um casamento, dois noivos oriundos da zona agrícola da cidade. Simplórios, como são em geral os que moram nestas regiões, via-se nas mãos de ambos os sulcos que deixam os instrumentos do trabalho rude da lavoura. Seguia o ditoso casal pelo centro da cidade de mãos dadas, com lencinhos bordados pendentes nas mãos, acompanhados por parentes e vizinhos, que como eles, eram lavradores. Segundo o articulista, era um "casamento da róça”. Na esquina da rua, encontrava-se prosando um rapazola de boné branco e avental azul de riscado. Ao avistar os noivos, soltou uma gargalhada de chacota e fazendo um gesto acapoeirado, exclamou com ar zombeteiro que o carnaval já havia passado. Os transeuntes igualmente começaram a rir achando graça na mofa que fazia o rapazola. Os noivos seguiram acompanhados por seus parentes, sem suspeitarem que fossem eles o motivo de tanta hilariedade: "Rir daquelles que são simples, modestos, que têm outros uzos e costumes mais singellos, que vivem com mais ingenuidade, sem luxo e affectação, é rir de si mesmo, é dar indícios de máo caracter, é dar prova de baixesa de sentimentos...” (O Friburguense, matéria "Os Noivos”, 05/04/1894).
O "city folk”, o homem da cidade, troçando o caipira, o tabaréu, o matuto, povoa a literatura nacional a exemplo de Monteiro Lobato na figura da personagem Jeca Tatu. O Brasil em mais de quatro séculos de sua história foi um país com base econômica na agricultura, na doçura do açúcar colonial e no ouro verde do café que originou a nobreza da terra. A Era Industrial veio tardiamente no século XX, e à cavaleiro, a urbanização. Na maioria das cidades, até o primeiro quartel do século XX, a maior parte da população vivia ainda no campo. No entanto, assim que as localidades se transformam em urbs, o desdenho do citadino pelo matuto se fez presente. Faz-se troça do roceiro, do agricultor da pequena roça, e paradoxalmente, tecem-se loas aos proprietários de vastos latifúndios, privilegiados pelas sesmarias gratuitas doadas pelo governo português. Aos potentados rurais, aos beneficiários de comendas e de títulos de nobreza tupiniquim, a sociedade brasileira prestava vassalagem, clientelismo na política, voto de cabresto, a subserviência dócil ainda que internamente um gosto pela liberdade revolucionária. Todo o nosso arcabouço mental foi edificado com base no mundo rural, mas a pilhéria e a troça só se dirige ao pequeno proprietário, a vilanagem rural, ao homem da plebe, o "homem de saco e botija”.
Retornando à crônica acima, que leitura podemos fazer da situação descrita pelo articulista? Para o historiador, mais do que uma simples troça, um indício de que alguma mudança ocorria em Nova Friburgo em fins do século XIX. A mofa do rapazola ao casal campônio se traduz numa polarização entre campo e cidade, entre o citadino da urbs e o matuto do campo. Mas Nova Friburgo já possuía uma significativa urbanização em fins do século XIX? Pode-se afirmar que não, mas não era o que pensava o friburguense daquela época, que já estabelecia uma linha divisória entre os seus arredores e a urbs da outrora freguesia de São João Batista. Nova Friburgo possuía naquela época um teatro que recebia grandes companhias da ópera italiana, o cinematógrafo, uma rede hoteleira de qualidade, enfim, alguns elementos que caracterizam um núcleo urbano. No entanto, o que possivelmente pode ter dado ares de urbs a Nova Friburgo foram os veranistas cariocas. Há que se explicar uma particularidade. O veranista de outrora, de fins daquele século, fugindo das epidemias de verão do Rio de Janeiro, permanecia seis meses na cidade serrana. Eram em sua maioria jornalistas, profissionais liberais e políticos, a exemplo do habituée Rui Barbosa, imprimindo uma sociabilidade mundana que deu à Nova Friburgo a característica de uma Versalhes tupiniquim serrana, onde o escol republicano se reunia em torno não do rei sol, mas em busca da salubridade do clima do município. Logo, essa circunstância explica a clivagem entre campo e cidade na mentalidade do friburguense oitocentista, a exemplo do rapazola que faz mofa do matuto. No entanto, a bela cidade serrana ainda levaria algumas décadas para adquirir ares de urbs.
Janaína Botelho é professora de História do Direito na Universidade Candido Mendes e autora de diversos
livros sobre a história de Nova Friburgo. Curta no Facebook a página "História de Nova Friburgo”

Janaína Botelho
História e Memória
A professora e autora Janaína Botelho assina História e Memória de Nova Friburgo, todas as quintas, onde divide com os leitores de AVS os resultados de sua intensa pesquisa sobre os costumes e comportamentos da cidade e região desde o século XVIII.
A Direção do Jornal A Voz da Serra não é solidária, não se responsabiliza e nem endossa os conceitos e opiniões emitidas por seus colunistas em seções ou artigos assinados.
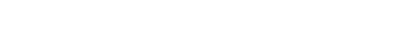
Deixe o seu comentário